Jornalistas Livres1 day ago12 min read
“A luta de classes nunca tirou férias neste país”
Em entrevista aos Jornalistas Livres e Brasil de Fato, o pesquisador e professor emérito da UFRJ, José Paulo Netto, analisa recentes manifestações de ódio contra determinados setores da sociedade a partir da formação social e da cultura política brasileira
Por Camilla Hoshino e Leandro Taques, de Veranópolis (RS)
Manifestações
de ódio, racismo, declarações machistas e ameaças verbais e físicas
contra lideranças da esquerda têm sido constantes no último período no
país. Segundo o professor José Paulo Netto, essas atitudes têm relação
com a tentativa das classes dominantes de “afastar a massa do povo dos
centros de decisão política”.
José
Paulo Netto é doutor em serviço social pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi vice-diretor da Escola de Serviço
Social da UFRJ e do seu Programa de Pós-Graduação em Serviço Social,
tendo título de professor emérito na instituição. Tradutor e organizador
de textos de autores clássicos como Marx, Engels, Lênin e Lukács, em
que se destaca como grande especialista, produziu obras teóricas e
políticas sobre o capitalismo, serviço social e marxismo. É membro do
Partido Comunista Brasileiro (PCB) e atua em parceria com movimentos
sociais, como o MST.
Em
entrevista ao Brasil de Fato e aos Jornalistas Livres, ele faz uma
análise das classes dominantes a partir da formação social brasileira,
fala sobre o quadro político atual no país e sobre como atuam as elites
em face da crise do capitalismo contemporâneo.
Para Netto, é justamente em momentos de tensões políticas e econômicas que “todo esse porão da sociedade brasileira, com um forte sentimento antipovo, antipopular, antimassa, racista e discriminador, vem à tona”.

Jornalistas Livres — Estamos
presenciando a todo o momento ataques da direita brasileira que deixam
explícitos o preconceito, o racismo e o sentimento de ódio contra
determinados setores da sociedade. Como a nossa formação social pode nos
ajudar a compreender essas atitudes?
Se
analisarmos com cuidado a história brasileira, vamos encontrar algumas
constantes que são traços constitutivos da nossa formação social e que,
portanto, são elementos constitutivos da cultura política brasileira. Um
traço muito visível de meados do século XIX em diante tem sido a
capacidade das franjas das camadas mais ativas das classes dominantes em
afastar a massa do povo dos centros de decisão política. Mesmo quando
tivemos, ao longo do século XX, momentos de institucionalização mais
ampla da participação política, tivemos elementos, mecanismos, meios e
modos que constrangeram ou limitaram essa participação política a
processos adjetivos. Costumo dizer que tivemos no Brasil um processo
tardio, lento, desigual e sinuoso de socialização da política.
Isso
ganhou certa magnitude com a derrota da ditadura instaurada em 1964. A
constituição de 1988 consagrou direitos políticos essenciais, abriu
caminho para se repensar direitos civis e, sobretudo, ampliou o leque
dos direitos sociais no país. Com todas as desigualdades e assimetrias,
creio que se pode dizer que no pós-1988 tivemos formalmente a
institucionalização da cidadania moderna no Brasil. Entretanto, se
observarmos o processo de luta contra a ditadura, de crise da ditadura e
de transição democrática no Brasil, teremos a clara percepção dessa
capacidade das franjas mais ativas das classes dominantes de encontrar
meios de excluir a massa do povo de processos decisórios. Tivemos um
processo de socialização da política, mas nem de longe um processo de
socialização do poder político. Isso tem relação com o que eu chamo de
linhas de continuidade na nossa história.
O senhor pode citar alguns exemplos disso?
O
Brasil foi um país escravocrata. Em 1888 tivemos uma abolição
inteiramente formal, em que não se criou nenhuma pré-condição para que o
liberto pudesse construir sua vida autonomamente. Da noite para o dia
foram libertos, mas sem ter terra, sem ter nada. Esta cultura
escravocrata não desapareceu. Há exemplos recentes. As camadas médias
(não necessariamente camadas oligárquicas) reagiram negativamente em
face da legislação acerca do trabalho doméstico. Poderíamos citar outros
exemplos como o acesso à universidade, historicamente elitista. É só
observar a dimensão das nossas universidades e a população em condições
etária e formal de ingressar ali.
Deste
modo, podemos perceber que a sociedade foi construída para que muito
poucos usufruíssem dos direitos formais que ela veio (bem ou mal)
escrevendo no seu ordenamento jurídico-político. Em momentos de crise ou
em momentos de tensão, em que se agudiza abertamente a luta de classes
(para utilizar um jargão da esquerda), todo esse porão da sociedade
brasileira, com um forte sentimento antipovo, antipopular, antimassa,
racista e discriminador, vem à tona. O processo de transição da ditadura
fez com que amplos setores tivessem vergonha do seu conservadorismo.
Mas isso acabou.

Qual foi o impacto do PT na mudança dessa atmosfera política?
Eu
diria que o PT teve um papel duplo. Pensando no PT como força de
governo, a partir de janeiro de 2003, foram tomadas providências de
caráter emergencial, mas que foram apresentadas como políticas
duradouras de Estado e que beneficiaram objetivamente a massa mais
pobre. Isso foi muito positivo. Ao mesmo tempo, isso foi feito no marco
de uma orientação macroeconômica que privilegiou os grupos financeiros
do país, que não restringiu em absoluto a fome lucrativa dos monopólios
nacionais e internacionais. Isso criou uma situação paradoxal que pode
ser observada ao cabo do mandato do Lula. Mas as elites jamais
suportaram o significado simbólico de ter um trabalhador que tomava
cachaça e falava errado na Presidência da República. O efeito PT (quando
Lula se elege) é enorme do ponto de vista simbólico. Enfim um sujeito
aparentemente igual à maioria da população chega lá.
“Marolinha”?
Lula
elege sua sucessora no marco de uma crise econômica internacional
gravíssima, a qual ele caracterizou como uma “marolinha”. Só que os
efeitos daquela crise rebateram na periferia de formas distintas. Sob o
governo dele, uma orientação macroeconômica conseguiu driblar bem esses
efeitos. A articulação de economia política que funcionou nos dois
governos dele não funcionou no governo Dilma. Não foi por incompetência
da equipe gestora. Houve sim falhas técnicas, mas elas não são as mais
importantes. Mas é que a “marolinha” virou um “tsunami”. Neste momento,
aqueles mesmos grupos que foram altamente beneficiados no governo Lula
põem para fora todo o seu preconceito de classe que vem acompanhado de
manifestações de ódio de classe, de marcas racistas e, sobretudo, de uma
entrada em cena, sem qualquer tipo de maquiagem, do velho elitismo
brasileiro. Penso que este é o quadro em que estamos vivendo hoje.
Como este elitismo se expressa?
Penso
que o processo eleitoral mostrou isso com clareza. Tivemos uma vitória
eleitoral democrática que mostrou uma sociedade dividida. Não ponho em
dúvida a legitimidade de vitória de Dilma. Mas não há duvida nenhuma que
há uma legitimidade expressa eleitoralmente muito estreita em termos de
maioria e que, portanto, é muito vulnerável. Exatamente sobre esta
vulnerabilidade atuam as elites. Também operam através de uma mídia
historicamente oficialista e porta voz de tudo aquilo que atravanca a
conquista, a realização e a ampliação de direitos.
De
1888 a 2015, quando se tem uma crise (não no sentido de possibilidade
de quebra do regime, mas uma crise financeira do Estado), se não há
orientações claras e políticas claras em face desta dificuldade, o
momento se torna ideal para que os segmentos mais retrógrados se
apresentem como são. Temos uma composição do legislativo que me parece a
mais anódina e amorfa dos últimos trinta anos e, portanto, facilmente
catalisada com propostas de oportunismo meramente eleitoral. Os que
querem desestabilizar tem um prato feito. Não sei como vai se desdobrar
esse processo governativo, mas tenho a impressão de que a presidente
Dilma vai travar uma guerrilha diária. Não se satisfaz a fome de leão do
PMDB com alface.
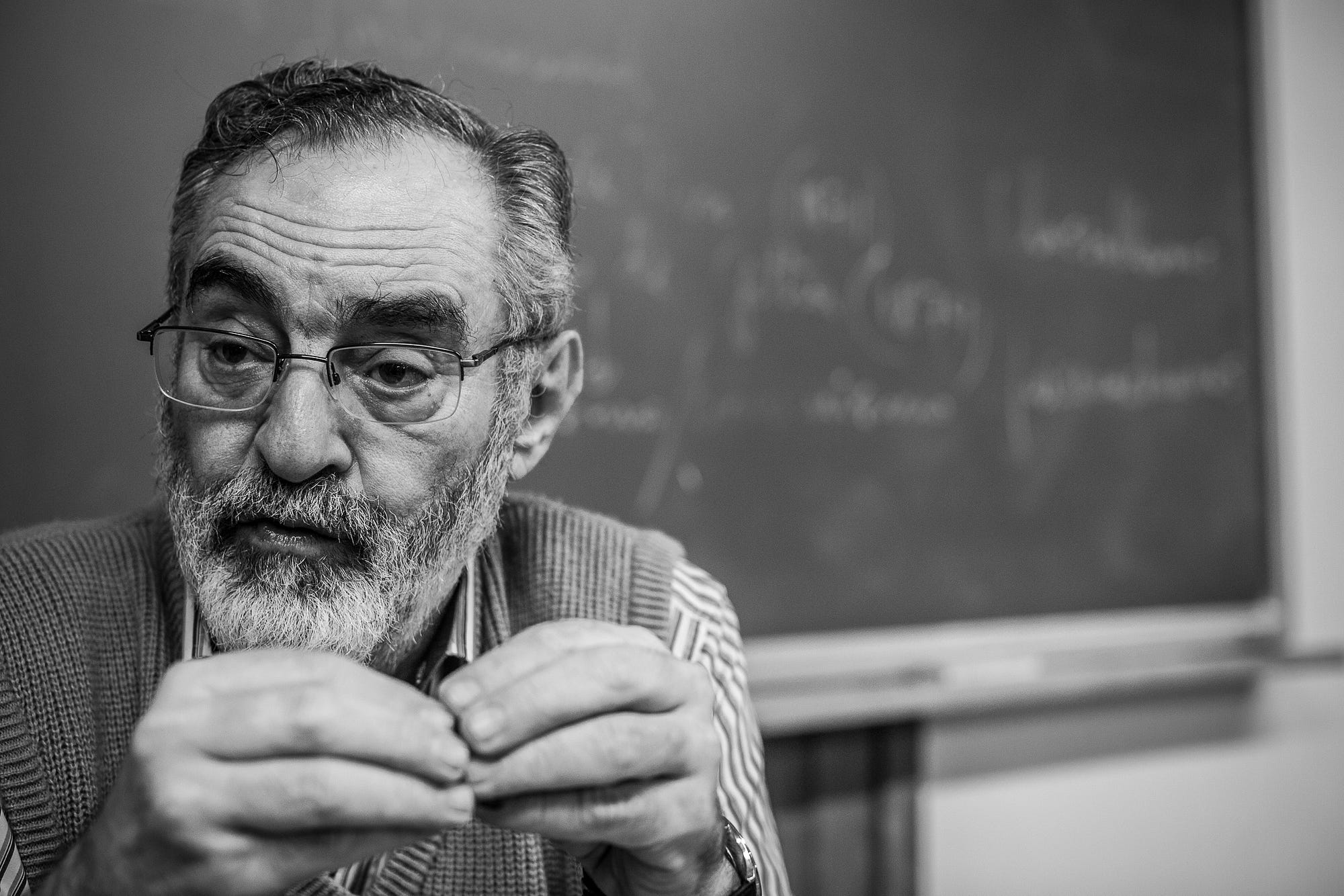
O
senhor utilizou os termos “luta de classes”, “ preconceito de classe” e
“ódio de classe”. Com toda a complexidade da divisão socioeconômica e
das ramificações do trabalho na nossa sociedade, ainda podemos falar em
classes sociais?
Não
tenho a menor dúvida. Classe social é uma categoria teórica que
expressa elementos fundamentais da realidade em uma sociedade como a
nossa. A sociedade brasileira tem hoje uma estrutura de classes muito
complexa e eu desconheço qualquer estudo rigoroso e sério sobre isso.
Não estou falando daqueles estudos publicitários que separam a nossa
sociedade em classes A, B, C, D, etc., mas de estudos que tragam
relações com os meios de produção e com a consciência de um projeto
político. A luta de classes nunca tirou férias neste país. Ela esteve
latente ou expressa ao longo desses últimos doze anos em manifestações
referentes a determinados projetos de políticas públicas e em como fazer
a orientação macroeconômica. Isso foi uma luta que atravessou o governo
Fernando Henrique, o governo Lula e atravessa o governo Dilma. O que
temos agora é uma emersão clara das posições de classe.
E como é possível mediar essas tensões?
Eu
percebo um dilaceramento do tecido social brasileiro do ponto de vista
político. O que é preocupante, porque não estão em jogo projetos
políticos, mas projetos de nação. Que sociedade nós queremos? Nós
queremos uma sociedade onde quem tem orientação diferente é objeto de
espancamento e onde o dissenso político é resolvido com ameaças físicas?
Vivemos uma conjuntura internacional difícil, com ajustamento na
divisão internacional do trabalho. Nós vamos nos inserir nisso de
maneira subalterna ou soberana? Temos que vir a público para determinar
com clareza que tipo de sociedade nós queremos e para chegar lá são
possíveis vários meios.
Estamos
com problemas que não vieram do governo Dilma, do governo Lula ou do
governo Fernando Henrique. Eles vêm da nossa transição interrompida. Eu
espero que tenhamos firmeza de princípios e sabedoria para resolvê-los
sem romper um pacto civilizatório que fizemos pelos menos em 1988 e que,
na minha opinião, está ameaçado por expressões de preconceito e ódio de
classe. Não podemos repetir experiências traumáticas do passado, cujos
resultados foram desastrosos para a massa do povo brasileiro, ainda que
tenham sido excelentes para as suas elites.
Nesse
sentido, penso que temos que olhar a política brasileira para além das
expressões institucionais abastardadas, onde se troca ministério por
voto no Congresso Nacional. Isto não é o Brasil. Isto é a expressão
institucional da política brasileira. A política brasileira está nas
universidades, nas fábricas, nas usinas, nos escritórios, no comércio e
nas ruas.

O
senhor é um grande especialista da obra de Marx, um nome que causa
arrepio nas elites e nos setores mais conservadores da sociedade. Os
intelectuais que se utilizam deste referencial teórico tem sido acusados
de promover “doutrinação ideológica” nas universidades. O que o senhor
pensa disso? É possível resgatarmos Marx para analisar a sociedade
contemporânea?
Uma
das coisas que mais tem me divertido na exposição do pensamento da
direita brasileira (se é que ela pensa) é imaginar que os comunistas
estão no poder. Isso é coisa do Olavo de Carvalho, não é? É uma calúnia
contra o PT e contra os comunistas, mas deixemos isso de lado. Primeiro,
eu diria que no universo cultural, resultado de experiências históricas
e da batalha de ideias sob a hegemonia burguesa, o marxismo andou muito
desprestigiado e muito desacreditado. No final da década de 1990 houve
um acantonamento do pensamento marxista. Isso mudou nos últimos dez anos
na universidade e fora dela. Houve um interesse renovado pelas ideias
de Marx, não apenas no Brasil. Segundo, eu acho que Marx é um incômodo
contemporâneo para nós. Essa crise sistêmica que o capitalismo está
experimentando (pelo menos desde o início do século) está trazendo a
discussão sobre uma série de projeções que Marx fez. Ele é extremamente
atual. É impossível tentar compreender com seriedade as mutações
econômicas dos últimos 30, 40 anos sem Marx.
Socialismo?
Não
há solução para a crise do capitalismo. Ela é global não no sentido do
globo, mas por ser uma crise ética, política, econômica e ecológica. O
padrão de civilização capitalista se exauriu. Não adianta dar carros
para todo mundo, pois não haverá lugar para jogá-los fora. Nós não
podemos continuar nessas cidades que crescem loucamente sem nenhum
planejamento. O capitalismo só tem a oferecer mais insegurança, mais
instabilidade e mais violência. Nesse sentido, esgotado o capitalismo, a
única alternativa para ele é o socialismo. Não posso ser original: “Ou o
socialismo ou a barbárie”. E a barbárie já está aí pertinho. Sob esse
aspecto, o socialismo é extremamente atual. Agora a questão é se essa
atualidade é transformada em viabilidade. E eu não vejo essa viabilidade
em curto prazo. O que me torna muito pessimista, pois quanto mais
tardia a alternativa do socialismo, maior será a destruição que o
capitalismo pode realizar.
Por que o senhor não vê essa alternativa no horizonte?
Porque
o socialismo não resulta da crise e da exaustão do capitalismo, mas de
um duro, longo e difícil processo em que massas organizadas de homens e
mulheres mudam o curso da vida coletiva e individual. Eu não vejo isso
se desenhando em curto prazo no horizonte. Vou dizer algo que já foi
dito por Antônio Gramsci e que é adequado para pensar o agora: “Quando
aquilo que é velho ainda não morreu e aquilo que é novo ainda não
emergiu, nesses tempos de transição, revelam-se fenômenos que são
verdadeiras sociopatias”. Estou convencido de que a ordem do capital,
que é o velho, ainda não morreu e a ordem do futuro ainda não emergiu.
Então estes são períodos históricos que oscilam entre o trágico e o
dramático.

A
esquerda fala em revolução, em protagonismo da classe operária e em
tomada de consciência pela massa. Mas também defende que qualquer tipo
de transição radical passa por uma formação séria dos trabalhadores.
Como o senhor vê isso? E como essa formação de caráter teórico se
transforma em prática?
Eu
não penso que as massas revolucionárias serão massas teoricamente muito
ilustradas. O que leva os trabalhadores a querer mudar de vida é o
momento em que suas vidas se tornam insuportáveis. É evidente que
camadas de trabalhadores letradas e informadas são muito mais capazes de
tomar consciência dos seus interesses do que camadas trabalhadoras
rústicas, mantidas na ignorância pelas classes dominantes. Acredito que a
questão central seja a formação política dos militantes. Líderes e
dirigentes não fazem a revolução. É inteiramente irrealista imaginar que
o conjunto das classes trabalhadoras vai se transformar em líderes da
transformação social. Segmentos que vão constituir as suas vanguardas
(no plural) é que podem dirigir um processo de transformação social. O
investimento na formação desses segmentos é absolutamente essencial. É
preciso formação política com base teórica. Aqui não me refiro à
agitação e propaganda ou doutrinação, mas sim a conhecimentos de teoria
social que permitam discernir e distinguir o essencial do acessório, o
substantivo do episódico.
Teoria e prática?
A
teoria é absolutamente indispensável para a formação de vanguardas que
sejam capazes de, em momentos de ruptura e de tensão social, dar
orientações claras, lúcidas, sérias e responsáveis às massas. Rupturas
sociais são sempre processos traumáticos. Não apenas no sentido da
violência material, mas elas envolvem rupturas ideológicas,
intelectuais, éticas, etc. Se lideranças não tiverem competência teórica
e sabedoria política, o resultado dessas rupturas pode ser
catastrófico. Pode ser a derrota de bandeiras e demandas generosas e
legítimas. Isso significa que ninguém avança no domínio do progresso
social, da universalização de direitos, da criação de condições de uma
consciência e de uma nova cultura política só pela militância operativa.
É preciso formação teórica e cultural. Eu me atreveria a dizer que sem
isso não caminharemos.
Queria
ser original, mas alguém já disse há cerca de 110 anos que “sem teoria
revolucionária, não há revolução” [Lênin]. É preciso estudar, estudar e
estudar para poder mobilizar e organizar com competência. Uma revolução
não pode ser o arrebentar de uma represa de demandas reprimidas e de
esperanças humilhadas. É sobre esse chão, sobre a indignação e sobre a
revolta que corre a possibilidade de outro mundo. Mas ele tem que ser
construído com cientificidade, competência e com uma palavra que está
desgastada, que é a sabedoria.



Nenhum comentário:
Postar um comentário