‘O apanhador no campo de centeio’ influenciou rebeldia de várias gerações
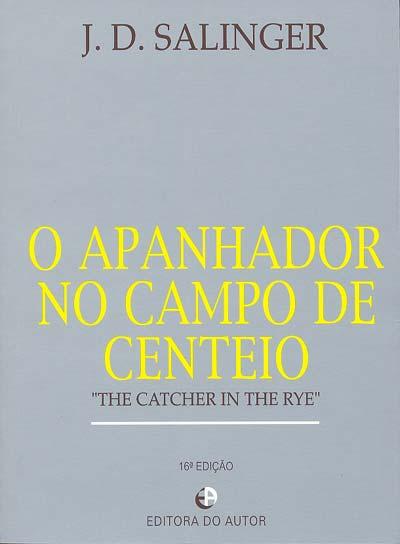
 Talvez seja difícil para os adolescentes de hoje imaginar o grau da influência exercida pelo romance O apanhador no campo de centeio (The catcher in the rye) sobre o imaginário de mais de uma geração de leitores, desde a públicação do romance, em 1951. Mais de quatro décadas da mais absoluta reclusão do escritor, que fugia da imprensa e da fama como da peste, não impediram que o livro se transformasse num verdadeiro objeto de culto, nem que seu protagonista, Holden Caulfield, servisse de espelho e inspiração para milhões de adolescentes em todo o mundo. Num sentido profundo, Salinger inventou a idéia de adolescência que vigorou da segunda metade do século 20.
Talvez seja difícil para os adolescentes de hoje imaginar o grau da influência exercida pelo romance O apanhador no campo de centeio (The catcher in the rye) sobre o imaginário de mais de uma geração de leitores, desde a públicação do romance, em 1951. Mais de quatro décadas da mais absoluta reclusão do escritor, que fugia da imprensa e da fama como da peste, não impediram que o livro se transformasse num verdadeiro objeto de culto, nem que seu protagonista, Holden Caulfield, servisse de espelho e inspiração para milhões de adolescentes em todo o mundo. Num sentido profundo, Salinger inventou a idéia de adolescência que vigorou da segunda metade do século 20.
Com Salinger, que morreu ontem aos 91 anos, talvez desapareça também um protótipo de adolescente, alienado mas autêntico, rebelde mas carente, desajustado mas buscando secretamente a aceitação, em suma, vivendo todos os conflitos típicos dos anos de formação – e, também, as frutrações do início da vida adulta – de uma classe média que também mudou muito.
O enredo do livro é aparentemente banal: narra, em primeira pessoa, alguns dias na vida de Holden, 16 anos, expulso da escola pela terceira vez às vésperas do Natal, e as encrencas em que ele se mete. Jovem sensível, incomodado com a falsidade dos adultos, Holden não tem nada de especial, nem seus encontos e conversas com um professor, uma antiga namorada ou sua irmã caçula, Phoepe, têm qualquer coisa de particularmente notável. Talvez por isso mesmo o livro tenha encantado tantos jovens leitores, pela despretensão e pela falta absoluta de mensagens edificantes. Crônica sem retoques de tudo que constuma passar pela cabeça de de um adolescente comum, O apanhador no campo de centeio mostrou para uma sociedade de adultos alheios o que é ser jovem – e confrontou essa sociedade com sua própria hipocrisia.
Nascido em 1919, Salinger publicou um único romance e 36 contos, os melhores deles reunidos em três volumes – Franny e Zooey (reunindo duas novelas publicadas pela revista The New Yorker em 1955 e 1957), Nove Estórias e Pra cima com a viga, moçada/Seymor, uma introdução (também traduzido como Carpinteiros, levantem bem alto a cumeeira), todos escritos entre 1940 e 1965. Sozinho, O apanhador no campo de centeio vendeu mais de 60 milhões de exemplares no mundo inteiro. No Brasil, o romance foi lançado pela Editora do Autor, numa excelente tradução de Jorio Dauster, Alvaro Alencar e Antonio Rocha.
Trecho de O apanhador no campo de centeio:
“Nem parecia que tinha nevado, as calçadas já estavam quase limpas. Mas fazia um frio de rachar e tratei de tirar do bolso meu chapéu vermelho e botei na cabeça – estava pouco ligando para minha aparência. Cheguei até a baixar os protetores de orelha. Bem que gostaria de saber qual o safado que tinha roubado minhas luvas no Pencey, porque minhas mãos estavam geladas. Não que eu fosse fazer muita coisa se soubesse. Sou um desses sujeitos covardes pra chuchu. Procuro não demonstrar, mas sou.
Por exemplo, se tivesse descoberto quem roubou minhas luvas no Pencey, provavelmente teria ido até o quarto do vigarista e diria: “Muito bem. Que tal ir me passando as luvas?”. Aí, o vigarista que as tinha roubado provavelmente responderia, com a voz mais inocente do mundo: “Que luvas?”. Aí eu provavelmente ia até o armário dele e encontrava as luvas num canto qualquer, escondida na porcaria das galochas ou coisa que o valha. Apanhava as luvas, mostrava a ele e perguntava: “Quer dizer que essas luvas são tuas, não é?”. Aí o filho da mãe provavelmente olharia para mim, com a maior cara de anjinho, e diria: “Nunca vi essas luvas em toda a minha vida. Se são tuas, pode levar. Não quero mesmo essa droga pra nada”.
Aí eu provavelmente teria ficado uns cinco minutos de pé, no mesmo lugar, com as luvas na mão e tudo. Ia me sentir na obrigação de dar um soco no queixo do sujeito, quebrar a cara dele. Só que não iria ter coragem de fazer nada. Ia só ficar ali, de pé, tentando fazer cara de mau. Talvez dissesse alguma coisa bem cortante e sarcástica, para aporrinhar o sujeito – em vez de lhe dar um soco no queixo. Seja lá como for, se eu dissesse alguma coisa bem cortante e sarcástica, ele provavelmente se levantaria, chegaria mais perto de mim e perguntaria: “Escuta, Caulfield. Você tá me chamando de ladrão?”. Aí, em vez de dizer que era isso mesmo, que ele era um filho da mãe dum ladrão, eu provavelmente só teria dito: “Só sei que a droga das minhas luvas estavam na droga das tuas galochas”. A essa altura o sujeito já saberia com certeza que eu não ia mesmo dar um soco nele e diria: “Olha, vamos deixar esse negócio bem claro. Você tá me chamando de ladrão?”. Eu então provavelmente responderia: “Ninguém está chamando ninguém de ladrão. Só sei que as minhas luvas estavam na porcaria das tuas galochas”. O negócio podia continuar assim durante horas.
Finalmente eu iria embora sem ter dado um sopapo nele. Provavelmente ia para o banheiro, acendia um cigarro e ficava me olhando no espelho, fazendo cara de valente. De qualquer maneira, era nisso que eu estava pensando enquanto voltava para o hotel. Não é nada engraçado ser covarde. Talvez eu não seja totalmente covarde. Sei lá. Acho que talvez eu seja apenas em parte covarde, e em parte o tipo de sujeito que está pouco ligando se perder as luvas. Um de meus problemas é que nunca me importo muito quando perco alguma coisa – quando eu era pequeno minha mãe ficava danada comigo por causa disso. Tem gente que passa dias procurando alguma coisa que perdeu. Eu acho que nunca tive nada que me importaria muito de perder. Talvez por isso eu seja em parte covarde.
Mas isso não é desculpa. Sei que não é. O negócio é não ser nem um pouquinho covarde. Se é hora de dar um soco na cara de alguém, e dá vontade mesmo de fazer isso, a gente não devia nem conversar. Mas não consigo ser assim. Eu preferia empurrar um sujeito pela janela, ou cortar a cabeça dele com um machado, do que dar um soco no queixo dele. Odeio briga de soco. Não que me importe muito de apanhar – embora, naturalmente, não seja fanático por pancada – mas o que me apavora mais na briga é a cara do outro sujeito. Não consigo ficar olhando a cara do outro sujeito, esse é que é o meu problema. Não seria tão ruim se a gente estivesse com os olhos vendados, ou coisa que o valha. Pensando bem, é um tipo gozado de covardia, mas não deixa de ser covardia. E eu não procuro me iludir.”
FONTE : http://colunas.g1.com.br/maquinadeescrever
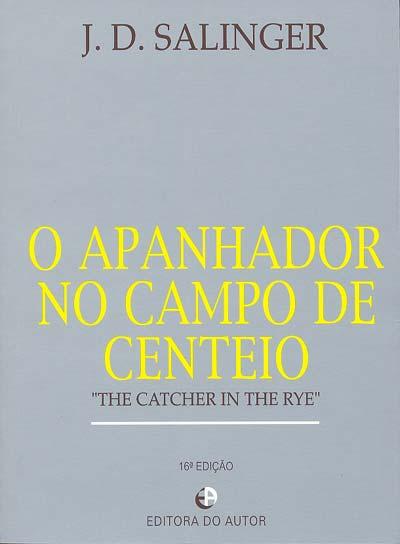
 Talvez seja difícil para os adolescentes de hoje imaginar o grau da influência exercida pelo romance O apanhador no campo de centeio (The catcher in the rye) sobre o imaginário de mais de uma geração de leitores, desde a públicação do romance, em 1951. Mais de quatro décadas da mais absoluta reclusão do escritor, que fugia da imprensa e da fama como da peste, não impediram que o livro se transformasse num verdadeiro objeto de culto, nem que seu protagonista, Holden Caulfield, servisse de espelho e inspiração para milhões de adolescentes em todo o mundo. Num sentido profundo, Salinger inventou a idéia de adolescência que vigorou da segunda metade do século 20.
Talvez seja difícil para os adolescentes de hoje imaginar o grau da influência exercida pelo romance O apanhador no campo de centeio (The catcher in the rye) sobre o imaginário de mais de uma geração de leitores, desde a públicação do romance, em 1951. Mais de quatro décadas da mais absoluta reclusão do escritor, que fugia da imprensa e da fama como da peste, não impediram que o livro se transformasse num verdadeiro objeto de culto, nem que seu protagonista, Holden Caulfield, servisse de espelho e inspiração para milhões de adolescentes em todo o mundo. Num sentido profundo, Salinger inventou a idéia de adolescência que vigorou da segunda metade do século 20.Com Salinger, que morreu ontem aos 91 anos, talvez desapareça também um protótipo de adolescente, alienado mas autêntico, rebelde mas carente, desajustado mas buscando secretamente a aceitação, em suma, vivendo todos os conflitos típicos dos anos de formação – e, também, as frutrações do início da vida adulta – de uma classe média que também mudou muito.
O enredo do livro é aparentemente banal: narra, em primeira pessoa, alguns dias na vida de Holden, 16 anos, expulso da escola pela terceira vez às vésperas do Natal, e as encrencas em que ele se mete. Jovem sensível, incomodado com a falsidade dos adultos, Holden não tem nada de especial, nem seus encontos e conversas com um professor, uma antiga namorada ou sua irmã caçula, Phoepe, têm qualquer coisa de particularmente notável. Talvez por isso mesmo o livro tenha encantado tantos jovens leitores, pela despretensão e pela falta absoluta de mensagens edificantes. Crônica sem retoques de tudo que constuma passar pela cabeça de de um adolescente comum, O apanhador no campo de centeio mostrou para uma sociedade de adultos alheios o que é ser jovem – e confrontou essa sociedade com sua própria hipocrisia.
Nascido em 1919, Salinger publicou um único romance e 36 contos, os melhores deles reunidos em três volumes – Franny e Zooey (reunindo duas novelas publicadas pela revista The New Yorker em 1955 e 1957), Nove Estórias e Pra cima com a viga, moçada/Seymor, uma introdução (também traduzido como Carpinteiros, levantem bem alto a cumeeira), todos escritos entre 1940 e 1965. Sozinho, O apanhador no campo de centeio vendeu mais de 60 milhões de exemplares no mundo inteiro. No Brasil, o romance foi lançado pela Editora do Autor, numa excelente tradução de Jorio Dauster, Alvaro Alencar e Antonio Rocha.
Trecho de O apanhador no campo de centeio:
“Nem parecia que tinha nevado, as calçadas já estavam quase limpas. Mas fazia um frio de rachar e tratei de tirar do bolso meu chapéu vermelho e botei na cabeça – estava pouco ligando para minha aparência. Cheguei até a baixar os protetores de orelha. Bem que gostaria de saber qual o safado que tinha roubado minhas luvas no Pencey, porque minhas mãos estavam geladas. Não que eu fosse fazer muita coisa se soubesse. Sou um desses sujeitos covardes pra chuchu. Procuro não demonstrar, mas sou.
Por exemplo, se tivesse descoberto quem roubou minhas luvas no Pencey, provavelmente teria ido até o quarto do vigarista e diria: “Muito bem. Que tal ir me passando as luvas?”. Aí, o vigarista que as tinha roubado provavelmente responderia, com a voz mais inocente do mundo: “Que luvas?”. Aí eu provavelmente ia até o armário dele e encontrava as luvas num canto qualquer, escondida na porcaria das galochas ou coisa que o valha. Apanhava as luvas, mostrava a ele e perguntava: “Quer dizer que essas luvas são tuas, não é?”. Aí o filho da mãe provavelmente olharia para mim, com a maior cara de anjinho, e diria: “Nunca vi essas luvas em toda a minha vida. Se são tuas, pode levar. Não quero mesmo essa droga pra nada”.
Aí eu provavelmente teria ficado uns cinco minutos de pé, no mesmo lugar, com as luvas na mão e tudo. Ia me sentir na obrigação de dar um soco no queixo do sujeito, quebrar a cara dele. Só que não iria ter coragem de fazer nada. Ia só ficar ali, de pé, tentando fazer cara de mau. Talvez dissesse alguma coisa bem cortante e sarcástica, para aporrinhar o sujeito – em vez de lhe dar um soco no queixo. Seja lá como for, se eu dissesse alguma coisa bem cortante e sarcástica, ele provavelmente se levantaria, chegaria mais perto de mim e perguntaria: “Escuta, Caulfield. Você tá me chamando de ladrão?”. Aí, em vez de dizer que era isso mesmo, que ele era um filho da mãe dum ladrão, eu provavelmente só teria dito: “Só sei que a droga das minhas luvas estavam na droga das tuas galochas”. A essa altura o sujeito já saberia com certeza que eu não ia mesmo dar um soco nele e diria: “Olha, vamos deixar esse negócio bem claro. Você tá me chamando de ladrão?”. Eu então provavelmente responderia: “Ninguém está chamando ninguém de ladrão. Só sei que as minhas luvas estavam na porcaria das tuas galochas”. O negócio podia continuar assim durante horas.
Finalmente eu iria embora sem ter dado um sopapo nele. Provavelmente ia para o banheiro, acendia um cigarro e ficava me olhando no espelho, fazendo cara de valente. De qualquer maneira, era nisso que eu estava pensando enquanto voltava para o hotel. Não é nada engraçado ser covarde. Talvez eu não seja totalmente covarde. Sei lá. Acho que talvez eu seja apenas em parte covarde, e em parte o tipo de sujeito que está pouco ligando se perder as luvas. Um de meus problemas é que nunca me importo muito quando perco alguma coisa – quando eu era pequeno minha mãe ficava danada comigo por causa disso. Tem gente que passa dias procurando alguma coisa que perdeu. Eu acho que nunca tive nada que me importaria muito de perder. Talvez por isso eu seja em parte covarde.
Mas isso não é desculpa. Sei que não é. O negócio é não ser nem um pouquinho covarde. Se é hora de dar um soco na cara de alguém, e dá vontade mesmo de fazer isso, a gente não devia nem conversar. Mas não consigo ser assim. Eu preferia empurrar um sujeito pela janela, ou cortar a cabeça dele com um machado, do que dar um soco no queixo dele. Odeio briga de soco. Não que me importe muito de apanhar – embora, naturalmente, não seja fanático por pancada – mas o que me apavora mais na briga é a cara do outro sujeito. Não consigo ficar olhando a cara do outro sujeito, esse é que é o meu problema. Não seria tão ruim se a gente estivesse com os olhos vendados, ou coisa que o valha. Pensando bem, é um tipo gozado de covardia, mas não deixa de ser covardia. E eu não procuro me iludir.”
FONTE : http://colunas.g1.com.br/maquinadeescrever

Nenhum comentário:
Postar um comentário